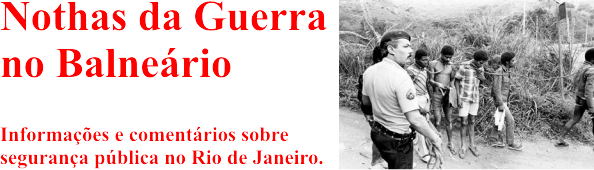Um sequestro na Baixada Fluminense*
Sexta-feira, quase meia-noite, outubro de 1994. Estava indo para Teresópolis. A estrada tinha pouco movimento e eu dirigia tão à vontade que custei a perceber o Santana ao meu lado. Dentro, quatro homens, com armas apontadas para mim, faziam sinal e gritavam para encostar o carro. Juro que não me dei conta da situação. Fiquei olhando e fiz um sinal do tipo “não me amolem”. Eles ficaram histéricos e quase bateram seu carro no meu. Nos aproximamos de um ônibus, que ia pela direita, na faixa deles, a baixa velocidade. Tiveram que frear e aproveitei para arrancar, perdendo-os de vista. Na altura do Alemão, nervoso, parei em frente à churrascaria La Strada, onde ainda havia bastante movimento. Respirei fundo e recostei-me no banco para descansar. Não tive tempo. Na frente de todo aquele povo, com tudo iluminado, adentraram o carro, passaram-me para o banco de trás, com um deles ao meu lado, apontando uma pistola para minha cabeça: “Doutor, isto é um seqüestro.”
O Mercedes tinha câmbio automático. Começou a pular e o motorista não conseguia controlá-lo. “Doutor, como é que eu faço!?” Pedi calma ao rapaz e passei a dar as instruções. Orientei também a saída para a estrada (que ele errou duas vezes, subindo pelos canteiros) e como fazer retorno no entroncamento para Teresópolis. Pegamos a direção do Rio e entramos no caminho de Caxias. Não havia o que fazer. Fiquei quieto, recostado no banco. Logo em seguida entramos em um lugar que parecia uma pedreira abandonada. Saltamos na escuridão e me puseram na mala do Santan. Eu cabia. Dava para respirar. Fiz do meu abrigo de jogging um travesseiro e relaxei. Também escondi meu Rolex (de aço, mas de estimação), amarrando-o no cordão da calça de jogging, por dentro. Ali ficou até eu ser libertado, pois ninguém se lembrou de me revistar. Corríamos muito e eles estavam tremendamente excitados.
Sexta-feira, quase meia-noite, outubro de 1994. Estava indo para Teresópolis. A estrada tinha pouco movimento e eu dirigia tão à vontade que custei a perceber o Santana ao meu lado. Dentro, quatro homens, com armas apontadas para mim, faziam sinal e gritavam para encostar o carro. Juro que não me dei conta da situação. Fiquei olhando e fiz um sinal do tipo “não me amolem”. Eles ficaram histéricos e quase bateram seu carro no meu. Nos aproximamos de um ônibus, que ia pela direita, na faixa deles, a baixa velocidade. Tiveram que frear e aproveitei para arrancar, perdendo-os de vista. Na altura do Alemão, nervoso, parei em frente à churrascaria La Strada, onde ainda havia bastante movimento. Respirei fundo e recostei-me no banco para descansar. Não tive tempo. Na frente de todo aquele povo, com tudo iluminado, adentraram o carro, passaram-me para o banco de trás, com um deles ao meu lado, apontando uma pistola para minha cabeça: “Doutor, isto é um seqüestro.”
O Mercedes tinha câmbio automático. Começou a pular e o motorista não conseguia controlá-lo. “Doutor, como é que eu faço!?” Pedi calma ao rapaz e passei a dar as instruções. Orientei também a saída para a estrada (que ele errou duas vezes, subindo pelos canteiros) e como fazer retorno no entroncamento para Teresópolis. Pegamos a direção do Rio e entramos no caminho de Caxias. Não havia o que fazer. Fiquei quieto, recostado no banco. Logo em seguida entramos em um lugar que parecia uma pedreira abandonada. Saltamos na escuridão e me puseram na mala do Santan. Eu cabia. Dava para respirar. Fiz do meu abrigo de jogging um travesseiro e relaxei. Também escondi meu Rolex (de aço, mas de estimação), amarrando-o no cordão da calça de jogging, por dentro. Ali ficou até eu ser libertado, pois ninguém se lembrou de me revistar. Corríamos muito e eles estavam tremendamente excitados.
Rodamos mais de uma hora. Quando paramos, abriram a mala, jogaram um lençol por cima de mim e fui sendo levado para uma casa com varanda. Podia ver os vultos através do lençol. Não pude entrar. Sentei-me na escada da varanda, com um deles, enquanto uma discussão pesada ocorria lá dentro. Lá fora, o meu guardião dava algumas instruções: "todos deviam ser chamados de Orlando", indistintamente. "Aquilo era um seqüestro, doutor, coisa séria!" Argumentei que eu não era um seqüestrável, que não tinha dinheiro, era um profissional que trabalhava para viver. A cada afirmação, Orlando revirava os olhos, apontava para o alto, como se os céus nos estivessem ouvindo, e dizia: “Veja lá, doutor, não fale assim, Deus castiga!” Sorria para mim, como se eu fosse uma criança apanhada em mentira. “Se o senhor nos ajudar, tudo vai sair bem!” E me advertia para não ficar observando as coisas, nem querer saber onde estávamos. Sempre repetia que tudo ia acabar bem, era só eu e minha família colaborarmos. E a conversa seguiu por quase uma hora. Lá dentro o pau comia. Depois eu soube que meu seqüestro fora uma operação independente, uma espécie de “free-lance”. Não tinham autorização para fazê-lo e estavam tentando convencer o resto do pessoal a me aceitar.
Quando pude entrar, deparei-me, num pequeno quarto, com um senhor de aspecto distinto, apesar do olhar cansado e da barba por fazer. Aparentava setenta anos ou mais. Estava deitado em um sofá. Olhou-me, sem nenhuma expressão, calado e como que indiferente. Deitei-me num tapete que havia no chão, com o mesmo travesseiro improvisado da mala do carro, e fiquei quieto. Passamos assim a noite toda, em silêncio. Não dormi, não estava excitado ou nervoso, mas procurava guardar forças e compreender a situação. Não sabia quem era o velho, mas imaginava que fosse um companheiro de cativeiro. Era constrangedor. Sentia-me como que numa cabine de trem ou um quarto de hotel com um estranho. Apagaram nossa luz e deram boa noite. O velho respondeu, eu não. Nas noites seguintes fui mais sociável.
Pela manhã trouxeram o café bem cedo. Com pão e manteiga, e já adoçado, café de pobre. Eu só tomo café sem açúcar. Reclamei e pedi que fizessem sem açúcar. Foi quando o senhor me falou pela primeira vez. Pediu-me compreensão e paciência. Aquilo era um seqüestro, mas eles eram boa gente. Orlando prometeu que eles fariam para mim sem açúcar. A mulher dele, que tomava conta da cozinha, perguntou-me se eu queria “gotinhas”. Disse que não era preciso. A partir daí, eu e o senhor quebramos o gelo. Ele estava ali há mais de quinze dias. Tinha uma indústria de porte na Baixada Fluminense. Estava escrevendo suas memórias no cativeiro e, durante o tempo que estivemos juntos, contou-me muito de si. Tinha problemas de sucessão, os filhos não queriam nada com o trabalho e a empresa era o seu sonho. Depois de libertados, nunca mais nos encontramos.
Nosso quarto tinha o sofá do velho empresário, o meu tapete, uma cadeira e uma pequena mesa, que passamos a dividir. Por algum tempo ele ficava ali escrevendo nas folhas de chamex, depois me cedia o lugar. Conversávamos sobre nós e também muito sobre os Orlandos. Era um contraste muito grande. O que mais nos impressionava era a distância que havia de seu mundo para o que nós achávamos que era o nosso. E a sua total falta de perspectivas. Tanto eles como nós tínhamos perfeita compreensão de que não havia saída para a vida deles, e que, em breve, estariam todos mortos ou presos. Todo final de noite, quando eles voltavam dos assaltos (“das paradas”), havia uma cervejinha amiga, quando sentavam conosco e ficavam batendo papo. Na minha primeira noite, eles não largaram suas armas, mas depois deixavam-nas descansadas no chão. Mas nunca tiraram as toucas ou falaram nomes.
Havia da parte de nossos algozes uma imensa curiosidade e respeito pelo nosso saber. O que mais faziam eram consultas e perguntas sobre a vida e negócios. Eram espertos e inteligentes. E tinham humor. Sempre traziam curiosidades dos assaltos e nos perguntavam o que era. Lembro de uma vez em que trouxeram um projetor de slides. Imaginem como explicar o que era aquilo, para que servia, quanto valia e quem compraria. Nunca esqueciam de trazer papel e caneta para o meu companheiro. “Aí vovô, p’ro senhor escrever.” Eram fanfarrões, gostavam de se vestir bem e ter mulheres. Uma vez um deles entrou todo emperiquitado. Sapato de verniz com pom-pom, finíssimo, calça preta com um cinto com adereços prateados e camisa de seda com uma bela estampa em preto e branco. Brinquei com ele: “Aí Orlando, todo bonito?” Ia sair com uma nova namorada. Todo mundo riu muito quando elogiei suas roupas. Já solto, em casa, quando recebi a fatura de meu cartão de crédito, entendi a graça. Estava tudo lá, fora por minha conta.
O local do cativeiro era infernal. No final de outubro o calor já estava insuportável. Só bebíamos guaraná Pakera, do qual nunca tinha ouvido falar. Hoje eu não consigo esquecer. O problema de seqüestro é a expectativa. Não há nada pior. Às vezes eu ficava exasperado e perdia a paciência. O meu companheiro é que me segurava. Mas algumas brigas deram resultado. Consegui que trouxessem um ventilador (e depois eu não podia deixar de imaginá-los com seus fuzis e pistolas, procurando um lugar para roubar ventiladores, para não me ouvirem mais resmungar). Fiz com que trocassem as folhas de papel do banheiro por um papel higiênico razoável e que trouxessem um sabão neutro para a gente usar no banho. Arranjaram um sabãozinho de coco, que quebrava bem o galho.
Nossa única distração (além da cervejinha da noite, com os Orlandos) era ouvir, apenas ouvir, a televisão na hora do jornal. E, naqueles tempos, era melhor que nem se ouvisse. O noticiário era violento e assustador. Isso nos abalava mais. O que sabíamos das negociações era muito pouco. Segundo os Orlandos, minha mulher não queria pagar dez mil dólares pelo meu resgate. “Estranha essa sua mulher, doutor...” Na verdade eles estavam pedindo duzentos mil. Soube depois que usavam esta tática. Com o velho senhor também. Diziam que nem a família e nem seus sócios queriam pagar cem mil por seu resgate, Deviam estar pedindo bem mais. Estavam negociando com seu diretor financeiro, que vinha a ser seu genro. “Vovô, quando sair, dê um jeito naquilo lá. Se eu fosse o senhor, não confiava nesse sujeito.”
Numa noite vieram conversar comigo, preocupados. Não tinham conseguido “vender” meu seqüestro, ou seja, nenhum grande seqüestrador queria bancar o meu risco. Além disso, os meus cartões já estavam cancelados – quase executaram um dos Orlandos, que voltou dizendo que o caixa eletrônico comera o cartão. Meu testemunho de que isso acontecia salvou-lhe a vida – e estavam convencidos que não havia muito a ganhar comigo. Então, aquele que parecia ser o chefe dos Orlandos, comunicou-me que eu seria solto naquela noite. Me deixariam em algum lugar ali perto. Era quase meia noite. Fiquei furioso. Confesso que passei dos limites. “Como vocês pensam em me deixar por aí no meio da noite, estão malucos”?! Querem me matar? Não saio de jeito nenhum!”Armei um tremendo barraco. Não iria ser solto na Baixada, sei lá aonde, em plena madrugada. E tinha medo de que eles achassem mais fácil executar-me no caminho. Aconteceu que eles baixaram a bola, ainda bem. Disseram que me soltariam de manhã cedo, mas que eu tinha que entender que aquilo era um seqüestro, pó! Eu estava colocando em risco a parada do vovô, que era mais importante. Nos entendemos, ficamos combinados de, na manhã seguinte, irmos para a Rio-Petrópolis, em um lugar seguro.
Naquela noite a cervejinha foi mais festiva. Trouxeram pizza. Comemoramos até tarde. Tínhamos estado estremecidos, mas passara. Meu companheiro, como sempre, me pedia paciência com os “meninos”. “São boa gente, não brigue com eles”, afirmava. Bebemos bastante. O Orlando que tomava conta de nós, e que devia ser o chefe do grupo, também procurou tranqüilizar-me. Contou do “doutor do BMW”, que tinha sido sua vítima anterior, “uma cara muito bacana, boa gente”e do churrasco que fizeram na véspera de sua libertação. Mais tarde um delegado da DAS comentou que nós tínhamos dado sorte, porque todos os que haviam ficado naquele cativeiro tinham gostado muito deles (sic).
O Orlando que morava no cativeiro era pai de um garotinho de seus cinco anos, alegre, que de vez em quando botava a cara na nossa porta, olhando-nos com curiosidade e simpatia. Era filho da mulher que nos servia. Mas ela não era a única, contou-nos na última noite. Ele tinha outras três. Confidenciou-nos que estava tendo uma nova experiência, única, com um travesti. Estava encantado. Meu companheiro de cativeiro ficou chocado. “Meu filho, não nos conte suas intimidades”. Orlando ria e falava que nós não devíamos deixar de experimentar. Ele, em outra ocasião, me havia oferecido trazer umas meninas (menores). Eu disse que ele estava maluco, como eu ia ter condição de fazer alguma coisa naquela situação. Ele não ficou convencido. Passado um tempo ele confidenciou-me: “Se o senhor quiser umas branquinhas, a gente arranja.” Falei que não era isso, mas ele não se convenceu.
No dia seguinte à confraternizção acordamos tarde. Não ouvíamos ninguém na sala. Estávamos, os dois prisioneiros, de ressaca e com uma tremenda sede. Fazia muito calor. Começamos a chamar por Orlando, e nada. Passado mais tempo gritávamos: “Orlando, estamos com sede”. Nada. O senhor me disse para ir até a cozinha. Mas eu não iria, de jeito nenhum. Foi a minha vez de dizer que aquilo era um seqüestro. E eu estava para ser libertado, não iria me arriscar. Numa de minhas primeiras idas ao banheiro eu já havia sido surpreendido ao encontrar atrás da porta um papelzinho da SUCAM, com o endereço da casa. Fiquei assustado por saber onde estávamos, com medo de eles um dia perceberem o furo e acharem, com toda razão, que descobríramos o local do cativeiro. Nunca comentei o fato com meu companheiro, nem ele comigo, se um dia também percebeu. Cansamos de gritar e fomos ficando cada vez mais em silêncio. De repente ouvimos movimento fora da casa. Passos e murmúrios. Voltamos a gritar. Ouvimos alguém falar que havia gente na casa.
“Quem está ai?”
“Estamos presos aqui. Só nós.” Respondemos.
E eles entraram. Ficamos aterrorizados. O velho senhor dizia: “é outra quadrilha, vão nos matar!” Confesso que eram mais assustadores que os Orlandos. Foram entrando, derrubando tudo, menos as televisões, os vídeos e alguns equipamentos roubados que estavam na sala e que foram sendo levados para fora antes sequer de tomarem conhecimento de nossa existência. Disseram o nome da equipe policial a que pertenciam e foram nos colocando em um Opala velho. O meu companheiro insistia em que seríamos executados. Não acreditava que fossem policiais.
Eram.
Meia hora mais tarde estávamos em uma unidade policial, prestando esclarecimentos. Lá fora, as equipes de tv nos esperando para os dez minutos de fama. Telefonei para minha mulher. Conversamos emocionados. Ela sofrera muito com a incerteza, e pelo fato de, durante o cativeiro, eu haver ganhado o meu primeiro neto. Um menino. Ela tinha tido medo de seu nascimento estar relacionado com a minha morte, e de eu nunca conhecê-lo. Mas tudo havia dado certo. Só não tinham escolhido o nome do menino, esperando pela minha opinião. “Tudo, menos Orlando”, falei.
*Relato de uma vítima de sequestro a Zeca Borges.